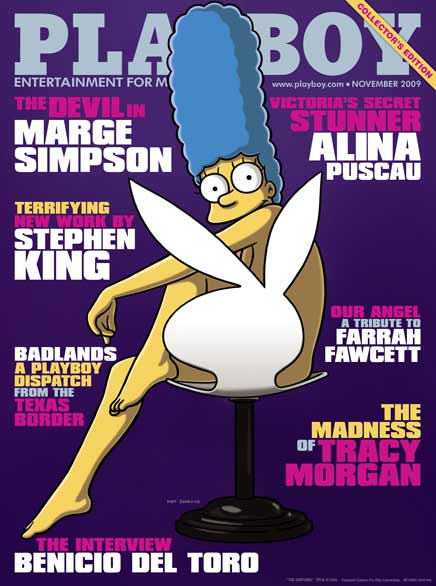1 – O Caso de Lady Collins.
Entro no castelo decorado com pinturas renascentistas, datadas de 1970. Na porta, o Rolls Royce que servia à Lady Collins está imóvel, o que é bom, já que não há ninguém dentro dele.
Embora seja taxidermista profissional, a Scotland Yard sempre pede meu apoio em casos de grande repercussão. Trabalhar como taxidermista me deu uma nova perspectiva da morte. Morrer é como ouvir uma sinfonia de Brahms no foyer do Royal Albert Hall, mas não tem maestro, não tem orquestra, não tem essa frescura de teatro com acústica perfeita, você está apodrecendo e parou de respirar.
Lá dentro, o inspetor Lloyd vê a biblioteca empoeirada da família Collins, onde destacam-se as obras autografadas de Adelaide Carraro.
Lloyd saúda minha chegada como de hábito, tirando sua gaita de fole do casaco e tocando “El dia em que me queiras”.
Lloyd. Péssimo detetive, mas grande músico.
Ao som de seu instrumento, alguns peritos interrompem a coleta de digitais e começam a dançar cheek to cheek.
“Chega, Lloyd”, ordeno com a voz firme, mas mantendo um tom delicado, quase acariciante, como Billy Eckstine lendo a lista telefônica de Boston.
“Venha comigo” responde Lloyd, guardando a gaita com relutância. Os peritos param de dançar mas permanecem abraçados no salão, como se a música fosse ser reiniciada a qualquer momento.
Mas, temia eu, haveria pouca música daqui para frente na mansão de Lady Collins, herdeira de barões que fizeram fortuna construindo bonecos de ventríloquos.
Lloyd me acompanha até a cozinha, onde a cabeça de Lady Collins repousa sobre a mesa, enquanto pedaços de seu corpo esquartejado se distribuem pela sala de música.
Olho para ela e digo, sem a menor hesitação: “Lloyd, ela está morta”
“Tem certeza, Frankie?”.
“Sim” digo com clareza, como Billy Eckstine lendo a lista telefônica de Boston, mas depois de horas de ensaio.
“Era o queríamos saber” diz Lloyd, que se despede de mim com um caloroso abraço e uma indiscreta apalpadela em meu umbigo.
Saio do Castelo para a manhã nublada de Londres.
2 – O Caso de Lord Rubbles.
Entro no pub enfumaçado, decorado com fotos de ditadores africanos dos anos 70. Idi Amin Dada parece feliz vestindo calças de pijama listradas, mas não consigo parar de pensar que Jean-Bedel Bokassa deveria sorrir mais, especialmente quando fantasiado de fenomenologista da linha heideggerana.
Na porta, o Bentley que servia a Lord Rubbles está imóvel, o que é bom, já que não há ninguém dentro dele.
Embora seja taxidermista profissional, a Scotland Yard sempre pede meu apoio em casos de grande repercussão. Trabalhar como taxidermista me deu uma nova perspectiva da morte. Morrer é como ser membro do júri que ouve as testemunhas do estupro de um albino, mas não tem juiz, não tem toga, não tem essa frescura de direito irrestrito de defesa, você está apodrecendo e parou de respirar.
Lá dentro, o inspetor Lloyd vê o bar empoeirado do Pub, onde destacam-se catuabas da safra de 1950.
Lloyd saúda minha chegada como de hábito, tirando suas polainas e fazendo uma pequena dança havaiana.
Lloyd. Péssimo detetive, mas grande dançarino.
Diante da visão espetacular de sua dança, alguns peritos interrompem a coleta de digitais e começam a tirar fotos da grande performance.
“Chega, Lloyd”, ordeno com a voz firme, mas mantendo um tom delicado, quase acariciante, como Billy Eckstine lendo o índice remissivo da Enciclopédia Britânica.
“Venha comigo” responde Lloyd, calçando as polainas com determinação. Os peritos olham as fotos digitais e discutem quais foram capazes de captar os melhores ângulos.
Mas, temia eu, haveria pouca dança daqui para frente no PUB Nordstren, datado de um tempo em que a sodomia só era aceita para fins procriativos.
Lloyd me acompanha até a cozinha, onde a cabeça de Lord Rubbles repousa sobre a mesa, enquanto pedaços de seu corpo esquartejado se distribuem pelas tábuas de frios, o grande atrativo do bar – logo depois das sessões de strip tease de seu proprietário, Jonathan Files, um veterano da Primeira Guerra Mundial.
Olho para ele e digo, sem a menor hesitação: “Lloyd, ele está morto”
“Tem certeza, Frankie?”.
“Sim” digo com clareza, como Billy Eckstine lendo o índice remissivo da Enciclopédia Britânica, mas imitando um grego.
“Era o queríamos saber” diz Lloyd, que se despede de mim com um beijo nos lábios e afanando meu cartão de escoteiro.
Saio do Pub para a manhã nublada de Londres.
3 – O Caso do Mineiro Mascarado.
Entro na mina de carvão poluída, decorada com pôsteres de exposições do Museu Nacional do Paraguai realizadas em 1970, antes da ascensão dos abstracionistas.
Na porta, o ônibus que conduz os mineiros até seu local de trabalho está andando lentamente, já que se esqueceram de puxar o freio de mão, o que não é bom, já que há não ninguém dentro dele.
Embora seja taxidermista profissional, a Scotland Yard sempre pede meu apoio em casos de grande repercussão. Trabalhar como taxidermista me deu uma nova perspectiva da morte. Morrer é como ver o show dos golfinhos amestrados na primeira fila, mas não tem respingos de água, não tem peixe que pula (até porque os golfinhos não são peixes, são mamíferos, mas eles também não estão lá), não tem essa frescura de amestrador com sardinha na mão, você está apodrecendo e parou de respirar.
Lá dentro, o inspetor Lloyd vê as paredes da mina, onde mineiros homossexuais encravam seus telefones e preferências sexuais pervertidas. Fico ao lado dele por um momento e copio o telefone de Anthony Burrows, especialista em candelabro italiano transverso.
Lloyd saúda minha chegada como de hábito, tirando suas maracas do casaco e tocando música regional húngara.
Lloyd. Péssimo detetive, mas grande ritmista.
Ao som de seu instrumento, alguns peritos interrompem a coleta de digitais e começam uma tourada.
“Chega, Lloyd”, ordeno com a voz firme, mas mantendo um tom delicado, quase acariciante, como Billy Eckstine lendo o diário de uma adolescente obcecada com tribos australianas.
“Venha comigo” responde Lloyd, guardando as maracás na pasta de couro. Os peritos olham a cena com tristeza, guardando o pano vermelho e o touro que os acompanhava.
Mas, temia eu, haveria poucas touradas daqui para frente na mina Nordstren, descoberta na época em que a Rainha Vitória havia proibido o uso do cotovelo em atos sexuais.
Lloyd me acompanha até a cozinha, onde a cabeça do mineiro mascarado repousa sobre a mesa, enquanto pedaços de seu corpo esquartejado se distribuem pelas panelas em que os mineiros preparavam pratos da cozinha sino-caribenha.
Tiro a máscara e os olhos mortos do mineiro misterioso me encaram sem brilho, com um mormaço vítreo cobrindo suas pupilas. Olho para ele e digo, sem a menor hesitação: “Lloyd, não só ele está morto como também não sei quem é ele”
“Tem certeza, Frankie?”.
“Sim” digo com clareza, como Billy Eckstine lendo o diário de uma adolescente obcecada com tribos australianas, mas pouco antes de sua primeira menstruação.
“Era o queríamos saber” diz Lloyd, que se despede de mim com um aceno e limpando as mãos sujas de carvão e de sangue em minhas nádegas.
Saio da mina para a manhã nublada de Londres.
4 – O Caso da Múmia de Tuntacamon.
Entro na pirâmide com cheiro de mofo, como tudo no Cairo, decorada com hieróglifos que ensinam a fazer origamis durante o ato sexual – o que me parece inútil, já que os egípcios só escreviam em papiros e não tinham inventado o papel.
Na porta, o camelo que conduz os exploradores parece inquieto e melancólico, como alguém que acabou de ler o Paulo Coelho e tomou biotônico Fontoura.
Embora seja taxidermista profissional, a Scotland Yard sempre pede meu apoio em casos de grande repercussão. Trabalhar como taxidermista me deu uma nova perspectiva da morte. Morrer é como ver um navio partir do porto, só que não existe navio, não existe porto, você está apodrecendo e parou de respirar.
Lá dentro, o inspetor Lloyd vê as paredes da pirâmide, onde escravos entalharam uma estranha história em quadrinhos, na qual um elefante experimenta sapatos para um jantar executivo com empresários do ramo da pesca. O elefante usa gravata borboleta, meias rendadas e parece desconfortável..
Lloyd saúda minha chegada como de hábito, tirando seu charuto da casaca, recebendo um santo do candomblé e me abençoando, chamando-me de “zifio”.
Lloyd. Péssimo detetive, mas grande macumbeiro.
Ao som de suas bênçãos, alguns peritos interrompem a coleta de digitais e começam a cantar músicas esquecidas de Ruy Mauriti, com ênfase em seus pontos de umbanda gravados na década de 70.
“Chega, Lloyd”, ordeno com a voz firme, mas mantendo um tom delicado, quase acariciante, como Billy Eckstine lendo a lista de compras de uma lavanderia a seco.
“Venha comigo” responde Lloyd, recobrando-se da possessão e guardando o charuto, ainda aceso, em seu paletó de tweed. O paletó começa a se incendiar, mas a fleuma britânica o impede de mostrar qualquer reação.
Mas, temia eu, haveria poucas sessões de descarrego daqui para frente na pirâmide de Tuntacamon, construída na época em que o líder de todos os egípcios havia consagrado a rumba como ritmo oficial da nação.
Lloyd me acompanha até a tumba, onde Tuntacamon repousa em seu esquife aparentando a paz de quem se divorciou da Ana Maria Braga depois de um longo processo litigioso.
Passo meus dedos sobre a fronte da múmia, recolho a poeira acumulada dos séculos e lambo meus dedos. Olho para ele e digo, sem a menor hesitação: “Lloyd, não só ele está morto como também está morto há um tempão”
“Tem certeza, Frankie?”.
“Sim” digo com clareza, como Billy Eckstine lendo a lista de compras de uma lavanderia a seco, mas na qual não fossem usados alvejantes.
“Era o queríamos saber” diz Lloyd, que se despede de mim com uma mordida em meu lóbulo esquerdo e escondendo um catecismo de Carlos Zéfiro no bolso de minha capa.
Saio da pirâmide para o camelo, que me levará até o aeroporto e, de lá, para a manhã nublada de Londres.
5 – O Caso do Palácio De Buckingham (no original, Who Will Wear The Trousers?)
Entro na residência oficial da monarquia britânica, decorada com pôsteres autografados de filmes de Cantinflas – mas só aqueles nos quais ele usava bigode.
Na porta, os cães da Rainha latem nervosamente, como um anão aguardando o resultado de um teste de paternidade no programa do Ratinho, mas coincidentemente em um dia no qual o apresentador decide fazer o programa ao vivo cercado de gansos. Algo a ver com um pedido do PETA, nada muito claro, mas há uma tensão palpável entre o anão e Ratinho.
Embora seja taxidermista profissional, a Scotland Yard sempre pede meu apoio em casos de grande repercussão. Trabalhar como taxidermista me deu uma nova perspectiva da morte. Morrer é como ver uma seringueira desfolhar no outono, só que não existe seringueira, não estamos no outono, você está apodrecendo e parou de respirar.
Lá dentro, o inspetor Lloyd vê o cardápio da ceia servida ao Rei do Congo, trazendo sopa de repolho – uma gafe histórica, já que todos sabem que o repolho é considerado sagrado naquela inóspita região africana.
Lloyd saúda minha chegada como de hábito, lendo os poemas de T.S. Eliot como se fosse o rapper Snoop Dog, balançando um estranho colar de prata e me chamando de “nigga”.
Lloyd. Péssimo detetive, mas grande imitador de rappers.
Ao som de suas rimas ritmadas, alguns peritos interrompem a coleta de digitais e começam a imitar balanços eletrônicos enquanto Lloyd grita, compassadamente: April is the cruelest month, breeding Lilacs out of the dead land, motherfucker
“Chega, Lloyd”, ordeno com a voz firme, mas mantendo um tom delicado, quase acariciante, como Billy Eckstine lendo um antigo almanaque de piadas de Costinha.
“Venha comigo” responde Lloyd, interrompendo o rap e guardando seu volume de The Waste Land em um bolso próximo da virilha esquerda, ao lado de onde ele guarda sua arma e também uma foto de Hugo Chávez comendo alho.
Mas, temia eu, haveria poucas sessões de rap daqui para frente no Palácio De Buckingham, construído na época em que a monarquia inglesa estava tentando formar um estúdio de tatuagens tribais para aumentar a arrecadação do império, abalada com a proibição do uso de cartões de crédito em transações envolvendo máscaras carnavalescas.
Lloyd me acompanha até o leito, onde Camilla Parker Bowles repousa em seu leito aparentando a paz de quem deu nome a uma ninhada de periquitos depois de um longo processo litigioso.
Passo meus dedos sobre a fronte de Camilla, recolho a poeira acumulada pela maquiagem pesada e lambo meus dedos. Aproximo meus dedos da veia do pescoço e, ao notar o inconfundível ritmo coronariano, digo sem a menor hesitação: “Lloyd, ela está viva”
“Tem certeza, Frankie?”.
“Sim” digo com clareza, como Billy Eckstine lendo um antigo almanaque de piadas de Costinha, mas a edição proibida para menores, onde ele fala de relações zoófilas entre ornitorrincos e holandeses grisalhos e, estranhamente, não circuncidados.
“Era o queríamos saber” diz Lloyd, que se despede de mim com uma rápida leitura de meus destinos nas cartas de tarô, prevendo viagens e uma mulher vesga e misteriosa.
Estou quase saindo quando me lembro de um detalhe que pode fazer toda a diferença. “Lloyd” acrescento eu “viva ela está, mas a mulher é feia pra caralho”.
6 – Frankie Brown, o Detetive Taxidermista, Vai ao Zoo
Odeio ir ao zoológico britânico. Talvez por não gostar de ver os pobres animais presos. Ou soltos. Na verdade, gosto mesmo de vê-los empalhados, o que talvez tenha sido o motor secreto de minha carreira como taxidermista. De fato, olhando em retrospecto, a maior parte de meus serviços é feita em animais. Vez por outra surge a solicitação de empalhar uma bicicleta de estimação ou um cadeado de segurança, mas animais, sem dúvida, estão no topo da lista. Lembro quando Lord Cavendish pediu que eu empalhasse sua esposa. Recusei-me, argumentando que minha ética profissional me impedia de trabalhar com seres humanos, especialmente aqueles que, como Lady Cavendish, continuavam vivos.
Princípios. Este é o meu nome do meio.
Mas o dever me levava aos locais mais improváveis, e foi assim que entrei no zoo naquela manhã nublada. O bilheteiro me olhou com estranheza, como se reprovasse o fato de eu usar gravata borboleta em um zoo. Ou talvez o fato de eu não usar calças nem cuecas, mas eu não estava nem aí para as idiossincrasias de um porteiro obcecado com a moda.
Embora seja taxidermista profissional, a Scotland Yard sempre pede meu apoio em casos de grande repercussão. Trabalhar como taxidermista me deu uma nova perspectiva da morte. Morrer é como ver a brisa soprar através de uma orquídea rara, mas não tem brisa, não tem essa frescura de plantinha cultivada, você está apodrecendo e parou de respirar.
O inspetor Lloyd já estava lá dentro, lendo um grosso calhamaço que tanto poderiam ser as memórias de Dercy Gonçalves quanto o cardápio da pizzaria que fazia entregas dentro do perímetro do parque – exceto aos sábados ou perto da jaula das hienas. Lloyd saúda minha chegada como de hábito, tentando me convencer a entrar em seu clube gourmet de degustação de ostras, frequentado por especialistas que desprezavam os amadores, aqueles que insistiam em abrir a concha para avaliar o sabor. Lloyd e seus parceiros preferiam fazê-lo passando a língua no casco externo do fruto do mar, categorizando-o de acordo com a aspereza.
Entrar para o clube demandava tempo, dedicação, um paladar apurado e band aids para a língua.
Lloyd. Péssimo detetive, mas grande conhecedor de culinária exótica.
Apesar da boa intenção, sua demonstração de como diferenciar ostras de mariscos maduros usando o tato e agulhas de vitrolas só consegue irritar os peritos, obrigando-os a interromperem a coleta de digitais para espancá-lo com violência. Logo percebi que não só era uma ótima ideia como também eu deveria tê-los imitado.
“Chega, rapazes”, ordeno com a voz firme, mas mantendo um tom delicado, quase acariciante, como Billy Eckstine fazendo flexões de braço sobre um chapéu panamá.
“Venha comigo” responde Lloyd, limpando o sangue das narinas e erguendo-se com dificuldade. Um dos peritos tenta reiniciar a pancadaria, mas é interrompido pela visão da ostra que se projetava do paletó de tweed do veterano policial.
Mas, temia eu, haveria poucas sessões de degustação de iguarias marítimas daqui para frente no zoológico londrino, construído na época em que os britânicos ainda não conheciam o sistema de gradeamento de jaulas, o que tornava a fuga de animais constante.
Lloyd me acompanha até a jaula dos leões, monumentais feras que são a principal atração do parque, logo depois do guia exibicionista que abria a capa de chuva e mostrava seu membro minúsculo para grupos de estudantes.
“Ele foi uma vítima da complexa gama de sentimentos que despertava nos animais” – explicou-me Lloyd sobre os antecedentes da vítima “ nos gorilas, a luxúria. Nos elefantes, o ódio. E nos leões, o desejo…”
“Como assim, Lloyd?”
“Harry, o tratador de animais. Ia dar comida para os gorilas que tentaram sodomizá-lo. Daí, saiu correndo e caiu na jaula dos elefantes, que o pisotearam e o atiraram para os leões, que por fim comeram partes significativas de seu corpo”
Olho para a cabeça de Harry, separada do corpo e aninhada entre as patas de um leão.
“E aí? Ele está morto, Frankie?” pergunta o inspetor, lambendo uma ostra fechada, como exige seu clube de gastronomia.
“Lloyd… Seria pouco profissional de minha parte avaliar sem ver o corpo todo, mas minha opinião profissional é de que as pistas apontam para essa direção”
“ Então jamais saberemos ao certo?”
“Certos enigmas, Lloyd, assim como a sexualidade de Barry Manilow ou a verdadeira idade do menino Ferrugem, talvez tenham nascido para permanecer envoltos em brumas de mistério”.
“Tem certeza, Frankie?”.
“Sim” digo com clareza, como Billy Eckstine fazendo flexões de braço sobre um chapéu panamá, mas desta vez vestindo um sombreiro.
“Era o queríamos saber” diz Lloyd, despedindo-se de mim passando minhas meias a ferro e trocando o cadarço de meus sapatos de couro de crocodilo. Se a falta de calças provocou alguma reação, ele a escondeu com a prática que anos de polícia ofereciam.
Com o calor das meias ainda aquecendo meus pés, saio para a manhã nublada de Londres.
Frankie Brown, o Detetive Taxidermista, Fica Em Casa
Adoro as tardes londrinas que passo em casa, só eu e minha arte, o cheiro de clorofórmio que lembra o hálito de minha saudosa mãe. Dona Walkiria, minha progenitora, partiu há 20 anos. Um belo dia, ela simplesmente pegou as malas e alugou um apartamento em frente ao meu. Nunca mais a vi. Tinha um caso desafiador em minhas mãos trêmulas de emoção. Lord Cavendish pediu que eu empalhasse seu alce de estimação. O que poderia ser uma tarefa fácil para um hábil taxidermista como eu, mostrou-se um desafio enorme quando vi que o animal fora cremado. Minha tarefa era aplicar um preparado de formaldeído em cada pequena cinza e devolvê-la ao vaso etrusco onde Libby, o alce amestrado, repousava para sempre.
“Para que embalsamar um alce cremado?” pergunta você. Pois é, pode perguntar o que você quiser que eu não vou responder. Não te conheço. E tem mais: acordei com os cornos virados. Frankie Brown, o cordial detetive, que trabalha de graça para a Scotland Yard, que ajuda velhinhos a atravessarem as perigosas ruas londrinas, que ensina a turistas sul americanos que a Torre Eiffel não fica na Inglaterra.
Eu sou assim a maior parte do tempo. Fleuma é meu nome do meio.
Mas quando eu acordo com os cornos virados, não tem quem me aguente. Então é isso aí. Melhor não mexer comigo hoje. Tô a fim não. Fica na sua.
O inspetor Lloyd já estava lá dentro de minha casa, vendo fotos de nu artístico que minha mãe, dona Walkiria, produzira ao lado (e em baixo) de um jumento dotado de uma jeba descomunal. O nome da série era “Ode à Grandeza”.
“Porra, esse teu trabalho é chato pra cacete” disse Lloyd, com uma grossura que não condizia com o cavalheiro que a Scotland Yard contratara para os crimes mais delicados do Reino Unido.
Tirei o monóculo de ampliação, depositei uma cinza de Libby no vaso etrusco e perguntei o que ele fazia ali.
“ O crime, Frankie… Pode acontecer em qualquer lugar. Quero sempre estar um passo à frente dele”
Os peritos interromperam a coleta de digitais para anotar sua frase naquilo que algum dia seria um livro com os aforismos do Inspetor Lloyd.
“Chega, rapazes”, ordeno com a voz firme, mas mantendo um tom delicado, quase acariciante, como Billy Eckstine empalhando um alce.
A razão pela qual eles colhiam impressões digitais em meu estúdio era um mistério completo, quase tão enigmático quanto o fato de eles usarem roupas de estudantes secundaristas.
Mas, temia eu, haveria poucas sessões de empalhamento de cinzas daqui para frente em minha casa, um tranquilo apartamento de frente ao de uma ex stripper meio piranhuda que posava fazendo sexo com animais.
Lloyd, visivelmente entediado, foi para a cozinha testar sua receita de omeletes sem ovos.
“O crime, Frankie, não é o mero desarranjo das leis naturais que forjaram a civilização.” disse ele, colocando óleo na frigideira
“Como assim, Lloyd?”
“Sei lá. Só tô puxando assunto. Tem alecrim?”
Lloyd. Grande inovador da culinária, mas um visitante chato pra cacete.
“Na parte de cima da biblioteca, entre o Paulo Coelho e o dicionário de gírias eslovacas”, oriento.
“Tem certeza, Frankie?”.
“Sim” digo com clareza, como Billy Eckstine empalhando um alce cremado com um chato interrompendo a toda hora.
“Era o queríamos saber” diz Lloyd, despedindo-se de mim desenhando um Pentagrama com sangue no meio de minha sala, invocando o demônio e colocando na vitrola um álbum de Mr. Ed, o Cavalo Falante, com a orquestra de Ray Conniff.
O demônio surge em minha sala, com os olhos de quem acabou de acordar de uma soneca e o inconfundível odor de enxofre que é o Eau de parfum do Coisa Ruim. “Tem omelete?” pergunta ele.
“Só sem ovo” diz Lloyd.
“Manda” diz o cão chupando manga, o senhor das trevas, o anjo caído. “Mas sem alecrim que eu sou alérgico” completa ele.
Frankie Brown, O Detetive Taxidermista, vai ao Bordel
Entro no bordel de péssima reputação na zona mais pobre de Londres. A área é cercada de viciados, cafetões, contrabandistas e, estranhamente, gráficos em greve solicitando o fim da pesca de guaxinins.
Na porta, um leão de chácara mal encarado tenta me vender DVDs piratas do programa do Chacrinha e fotos de dromedários copulando.
Lá dentro, o ambiente é de puro sexo. O ar exala uma mistura de Aqua Velva, fumaça de charutos e do suor do Príncipe George III, preservado em formol como curiosidade científica.
Embora seja taxidermista profissional, a Scotland Yard sempre pede meu apoio em casos de grande repercussão. Trabalhar como taxidermista me deu uma nova perspectiva da morte. Morrer é como ver o Sol mergulhar no poente através de um lago azul, mas não tem Sol, não tem poente, não tem essa frescura de laguinho, você está apodrecendo e parou de respirar.
O inspetor Lloyd inspeciona o cardápio da casa, que oferece desde sopas até uma estranha variação do sushi erótico, no qual é servida uma moça vestindo uniforme de bilheteira do Teatro Municipal com sarapatel condimentado com mostarda.
A moça, avisa o cardápio, não vem com o prato, dada uma rara alergia a pratos latinos em geral.
Lloyd saúda minha chegada como de hábito, fazendo uma imitação de Carmem Miranda e usando como chapéu de frutas o que quer que esteja à mão – neste caso, um faqueiro de prata datado da década de 1970.
Lloyd. Péssimo detetive, mas grande travesti.
Ao som de “Disseram que eu voltei americanizada”, alguns peritos interrompem a coleta de digitais e começam a imitar o Trio da Lua. A moça vestindo uniforme de bilheteira do Teatro Municipal começa a vomitar. Aparentemente, além da alergia às comidas latinas, sua náusea também aparece diante de ritmos do hemisfério Sul.
“Chega, Lloyd”, ordeno com a voz firme, mas mantendo um tom delicado, quase acariciante, como Billy Eckstine imitando Dick Haymes cantando Smoke Get In Your Eyes.
“Venha comigo” responde Lloyd, interrompendo a marchinha de carnaval e devolvendo o faqueiro para o cofre de segurança instalado na parede, atrás de um quadro que mostra palhaços fugindo de um incêndio enquanto cavalos choram.
Mas, temia eu, haveria poucas sessões de marchinhas carnavalescas daqui para frente no Bordel, construído na época em que a polícia britânica estava tentando técnicas gandhianas de resistência pacífica ao crime, sentando em um café e contando anedotas de escritores do Século Dezoito o dia inteiro, até que os criminosos cansassem. A criminalidade explodiu, assim como a publicação de compilações do anedotário dos literatos da época.
Lloyd me acompanha até o salão principal, onde as moças desfilavam seus encantos para escolha do cliente. Um enrolador de charutos cubanos acompanhava o processo, vaiando, quando necessário, as escolhas do cliente. Notei que ele não era muito popular na casa, embora os proprietários justificassem sua presença como “controle de qualidade”, em uma tentativa de obter uma certificação ISO para a casa.
Passo meus dedos sobre a fronte da prostituta inerte, recolho a poeira acumulada pela maquiagem pesada e lambo meus dedos. Aproximo meus dedos da veia do pescoço e, ao notar o inconfundível ritmo coronariano, digo sem a menor hesitação: “Lloyd, ela está viva”
“Tem certeza, Frankie?”.
“Sim” digo com clareza, como Billy Eckstine imitando Dick Haymes cantando Smoke Get In Your Eyes, mas com um tom distanciado e irônico.
“Era o queríamos saber” diz Lloyd, “mas por que diabos ela não mostra nenhuma reação diante do ato sexual – desconforto, prazer, cócegas, nada???”
“Lloyd, sua besta: ela é inglesa”
Saio para a manhã nublada de Londres.
Frankie Brown, O Detetive Taxidermista, vai à … bem, com o perdão da expressão, Frankie Brown, O Detetive Taxidermista, vai à Merda (a pedidos)
Entro no sistema de esgotos que corre pelos subterrâneos de Londres. O ambiente é totalmente insalubre, reunindo tudo o que os cidadãos britânicos jogam pelo vaso sanitário – dejetos, biografias indiscretas da Lady Di, CDs com concertos ao vivo dos Menudos gravados em Ponta Porã, bonecos do Garfield com ventosas para grudar no espelho dos carros, mapas com a localização da Ilha de Caras, fotos de Hugo Chávez fazendo sopa de repolhos e restos de drogas avaliados em milhões de libras (mesmo depois de a vigilância sanitária tê-lo expressamente proibido de fazer isso, infelizmente Keith Richards continuava se livrando do que comprava em excesso dessa forma).
No buraco que dá acesso ao sistema, bem no coração da Trafalgar Square, um guarda da rainha vigia o local 24 horas por dia, usando seu pitoresco chapéu de pele de urso. Infelizmente, como ele é orientado a nunca se mover, a depredação do sistema é constante.
Alguns marginais ainda se detêm por alguns minutos para a inevitável foto ao lado do soldado, mas esse pequeno gesto de vaidade é sucedido por invasões do local e sabotagens permanentes.
Desço a minúscula escada que dá acesso aos porões seculares, onde, reza a lenda, o próprio Rei Arthur promovia encontros secretos com Merlin.
As evidências disso estão no museu imperial londrino, que mostram em diversas ilustrações o nobre com um pregador de roupa fechando as narinas.
Embora seja taxidermista profissional, a Scotland Yard sempre pede meu apoio em casos de grande repercussão. Trabalhar como taxidermista me deu uma nova perspectiva da morte. Morrer é como ver uma gaivota alçar voo de uma pedra insular, mas não tem gaivota, não tem voo, não tem essa frescura de ilhinha, você está apodrecendo e parou de respirar.
O inspetor Lloyd já está lá embaixo, em meio à podridão que caracteriza os subterrâneos da capital britânica, inspecionando as inscrições que os escravos do império deixaram nas paredes enquanto escavavam as entranhas da pedra. Estas inscrições são a única prova de sua passagem pela terra, o único sinal que esses pobres homens podiam deixar para a posteridade, logo é estranha a predominância de receitas de chili com pequenas variações na dosagem de pimenta.
Lloyd saúda minha chegada como de hábito, fazendo uma imitação de Gene Kelly em Singin’ in the Rain, mas sua falta de habilidade faz com que o ato seja facilmente confundido com Fred Astaire em Easter Parade.
Lloyd. Péssimo detetive, péssimo imitador, mas ainda assim grande sapateador.
Apesar da boa intenção, a ideia de sapatear no esgoto mostra-se rapidamente uma péssima iniciativa, e os dejetos pisados voam por todos os lugares, obrigando os peritos a interromperem a coleta de digitais e abrigarem-se atrás de guarda-chuvas. Eu não conseguia imaginar a razão pela qual eles tinham levado guarda-chuvas para o esgoto, mas logo percebi que não só era uma ótima ideia como também eu deveria tê-los imitado.
“Chega, Lloyd”, ordeno com a voz firme, mas mantendo um tom delicado, quase acariciante, como Billy Eckstine fazendo um gargarejo com Listerine sabor menta, enquanto tento limpar minha roupa.
“Venha comigo” responde Lloyd, interrompendo a dança e guardando-a no bolso traseiro de sua calça, junto com um extenso guia sobre a vida noturna de Poços de Caldas.
Mas, temia eu, haveria poucas sessões de tap dance daqui para frente no Esgoto londrino, construído na época em que não havia sistema de canalização da cidade, o que fez dele uma escavação inútil por quase duas décadas, até que Churchill fez do local um campo de críquete para contabilistas em início de carreira.
Lloyd me acompanha até o vão principal, onde as correntes se encontravam como um monumental tsunami de excrementos. Um jóquei circulava a área, proibindo os turistas de fotografarem o local e de fazer esculturas abstratas – a interdição da escola abstracionista era uma das bandeiras favoritas dos condutores de cavalos de corridas.
A esposa do jóquei ligava em seu celular para demovê-lo da iniciativa, mas a falta de sinal fazia suas mensagens caírem na caixa postal, onde ele instruía quem o procurava a mandar mensagens através de pombos correio.
Passo meus dedos sobre o agente sanitário inerte, recolho os sujos resíduos acumulados na estranha fantasia de gondoleiro veneziano que ele usava e revelo seu rosto, coberto pela maquiagem barata.
Aproximo meus dedos da veia do pescoço e, ao notar a inconfundível falta de ritmo coronariano, olho para meu relógio e anuncio, imitando Groucho Marx: “Lloyd, ou esse homem está morto ou meu relógio parou.”
Sem entender a piada, Lloyd, com sua irritante falta de senso de humor, confere o horário de meu relógio com o do Big Ben, avistado por uma pequena fresta aberta na calçada.
A operação dura cinco minutos, após os quais Lloyd se convence de que meu relógio está certo.
“Tem certeza, Frankie?”.
“Sim” digo com clareza, como Billy Eckstine fazendo um gargarejo com Listerine sabor menta, mas sem conseguir fechar a tampa à prova de crianças. Não o condeno, já que eu próprio nunca conseguia abrir os frascos. Aliás, por uma estranha coincidência, eu jogava os frascos lacrados pelo vaso sanitário e tinha reencontrado vários deles em minha breve expedição.
“Era o queríamos saber” diz Lloyd, despedindo-se de mim oferecendo o bigode de Friedrich Nietzsche para minha coleção de pêlos faciais, além de uma desconfortável massagem relaxante nas pálpebras.
Subo a escadinha e saio para a manhã nublada de Londres.